Nota de declaração de interesses. Fernando Cardeira é meu tio. Este artigo foi feito com base nos testemunhos dele, e no arquivo da PIDE da minha família (mãe, tio), que consultei. Foi publicado originalmente em Os Anos de Salazar (coord António Simões do Paço, e na revista Trabalho, dos arquivos da social democracia, na Suécia). Fi-lo em homenagem ao meu tio, e aos outros desertores, e em respeito pelos guerrilheiros dos movimentos de libertação.
Oficiais milicianos optam pela deserção contra a guerra colonial
Juventude, deserção, coragem, medo, fraternidade, juras de amor. A história dos sete oficiais portugueses que em 1970 desertaram do Exército colonial tem todos os ingredientes de uma boa história e é emblemática de toda uma geração de estudantes inspirados pelo Maio de 68, de oficiais milicianos horrorizados com a matança colonial, de jovens desejosos de romper as amarras do autoritarismo e dessa imensa prisão cultural e intelectual que era o Portugal de Salazar.
A deserção teve uma vasta repercussão no regime de Salazar e a nível internacional. Traidores à pátria em Portugal, heróis na Suécia, os seis oficiais fizeram da sua deserção uma luta contra a guerra colonial. Amílcar Cabral escreveu-lhes a agradecer e as suas declarações contra o colonialismo foram ouvidas pelos guerrilheiros no meio do mato da Guiné, de Angola e de Moçambique.
A mobilização veio na Ordem de Serviço n.º 105, de 5 de Maio de 1970, do Regimento de Infantaria n.º 5 das Caldas da Rainha. Nela mobilizavam-se os tenentes milicianos Vítor Pires e Vítor Bray (para Angola), Albino Costa, Constantino Lucas, Fernando Cardeira, José Marta e Silva e Fernando Mendes (para a Guiné), António Baltazar, Artur Pita e Carlos Almeida (para Moçambique), entre outros ex-alunos da Academia Militar que não viriam a desertar.
Quando a ordem de mobilização chegou, a decisão de desertar já tinha sido tomada.
Tinham entrado para a Academia Militar aos dezoito anos de idade, no ano em que rebentou a guerra, 1961, sem que tivessem consciência de que a guerra ia ser longa e difícil – pensavam que nunca chegaria a vez deles, pois o curso de Engenharia na Academia tinha uma duração de pelo menos sete anos. A escolha da Academia expressava muito mais o desejo de mobilidade social, uma oportunidade para estudar e deixar a província para trás, do que a ambição de uma carreira militar. Mas a tenacidade dos movimentos anticoloniais deixou o Estado Novo de rastos – até o fazer cair – e a guerra prolongou-se.
Um vislumbre do Maio de 68
Logo nos primeiros anos da guerra chocaram-se com o que ouviram. Fernando Cardeira lembra-se de como «entre duas cervejas, os oficiais que vinham da guerra falavam orgulhosos de prender, torturar e matar (…). Lembro-me de conhecidos ‘heróis’ de guerra condecorados pelo Salazar, como o alferes Robles e outros, a gabarem-se das atrocidades que cometiam, dos massacres que por lá faziam».
O curso de Engenharia da Academia era de sete anos, dividido por quatro na Academia e três no Instituto Superior Técnico. Dentro da Academia acabavam por ter uma grande liberdade de conversar, entre militares, e até havia uma secção cultural que podia encomendar livros como A Mãe, de Máximo Gorki. Em 1965, passaram a estudar no Técnico, sem farda, livres para assistir às RIAs (Reuniões Inter-Associativas), plenários de estudantes, sessões de canto livre, manifestações de rua. O contacto com o Técnico foi determinante para consolidar a sua oposição à guerra colonial e se aproximarem, alguns, das ideias de esquerda. Fernando Cardeira, talvez o mais politizado do grupo, lembra-se de, nesses anos, ter lido mais Marx, Engels e Lenine do que livros de engenharia.
A sorte também conta no rumo da vida. Em 1968, alguns deles participaram numa viagem de finalistas do Técnico pela Europa. A viagem passou por Paris em Abril de 1968, já as ruas estavam cheias de cartazes com a cara dos revolucionários Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Daniel Cohn-Bendit e Alain Krivine iam à cabeça das manifestações, rodeadas pela polícia. Esse foi um momento fulcral da decisão. Quando chegam a Portugal, da viagem, alguns pedem dispensa da Academia Militar. Saem da Academia. A saída não era fácil – para além do choque que isso provocava nos pais e noutros familiares, o regime obrigava a pagar 34 contos para poderem ter dispensa. Uma exorbitância, para quem tinha um salário mensal de pouco mais de 2 contos. Muitos tiveram que pedir dinheiro emprestado e conseguiram, sem sair do quartel durante quase um ano, juntar para pagá-lo de volta. Ainda hoje guardam os recibos daqueles 34 contos. Era este o preço a pagar para não morrer na guerra? Era este o preço da liberdade? Era, pelo menos, a primeira factura.
Saído da Academia Militar, o grupo é integrado no Exército, já não como oficiais do quadro permanente, mas sim do quadro de complemento, como oficiais milicianos. Engenheiros ou quase, transformados em «bons» atiradores de Infantaria, andaram entre 1969 e 1970 a percorrer o País, já como instrutores porque tinham alguma formação militar: Mafra, Leiria, Caldas da Rainha, Évora. Foi aliás nas Caldas da Rainha que se reuniram pela primeira vez, em Janeiro de 1970, com o propósito de organizarem a deserção, já determinados a não fazer a guerra, desse por onde desse, e convencidos de que não escapariam à mobilização para a frente da guerra.
A salto até França
Não estavam enquadrados em nenhum partido. Tinham tomado a decisão de desertar. Não sabiam como. Passou-lhes pela cabeça, entre outras coisas, sequestrar um barco – a memória de Henrique Galvão e do sequestro do Santa Maria ainda estava fresca na cabeça de todos. Mas a ideia nunca passou disso, uma ideia. Mais realistas, pensam em como arranjar documentos e passar a fronteira. A primeira atitude é irem ter com os militantes do PCP que conheciam, mas a que não pertenciam. Eram aliás já muito críticos do Partido Comunista por este ter estado contra o Maio de 68 e ter apoiado a invasão de Praga pela URSS. O PCP diz-lhes que não está disposto a ajudá-los porque são contra a deserção – militares como eles, conscientes, politizados, devem ir para a guerra e aí fazer propaganda contra a guerra, organizar a subversão.
O PCP teve de facto a política de impedir a deserção. Nas suas memórias publicadas em Foi Assim, a dissidente comunista Zita Seabra, hoje no PSD, escreve que «Cunhal determinou que os militantes comunistas não podiam desertar, passando a infiltrar as forças armadas e a desenvolver, a partir do seu interior, o trabalho revolucionário».
A política do PCP foi alvo de acesas discussões internas e é um facto que os seus frutos foram parcos ou nenhuns. O golpe que derrubou a ditadura deu-se à margem do PCP, foi um golpe e não um «levantamento nacional».
Fernando Cardeira lembra-se de, numa reunião, ter argumentado contra a política do PCP dizendo que no mato, quando se comanda uma companhia ou um pelotão, não se faz propaganda. Está-se armado e o outro, em frente a nós, também. É matar ou morrer.
O grupo que finalmente decide desertar era todo constituído por tenentes milicianos que tinham desistido da Academia Militar. Juntou-se a eles um aspirante miliciano que não tinha sido aluno da Academia Militar, mas também queria desertar. Tinham então 26, 27 anos. Eram quase todos casados, alguns com filhos pequenos. A decisão de desertar foi, por isso, uma decisão tomada em família, com o apoio incondicional das mulheres, que poucas semanas depois se juntaram a eles na Suécia.
A família de um dos desertores era do Gerês e um primo dele era passador e vivia em Ourense. Ele trataria de tudo. Seis decidiram ir logo a 23 de Agosto; um deles optou por ir mais tarde para não perder uma soma grande de dinheiro de ajudas de custo que tinha a receber nos Açores. Passou pouco mais tarde pela raia perto de Mourão, vila de onde era natural um familiar. Os outros três, Vítor Pires, Vítor Bray e Albino Costa desertaram em Outubro, para a Bélgica.
O grupo de seis partiu para o Gerês. Aí passaram, no dia 23 de Agosto de 1970, a fronteira em plena luz do dia, cerca das 4 da tarde. Ainda hoje guardam fotografias descontraídas na fronteira do Gerês, perto da Portela do Homem, onde os oficiais aparecem sorridentes, num belo dia de sol. Pagaram ao passador pouco mais de 1500 escudos, «preço de amigo» – naquela altura chegava a pagar-se 10 contos para passar a fronteira, com o risco de ser aldrabado. Os 1500 escudos incluíam o autocarro até Paris e uma noite dormida numa pensão de Ourense.
Na fronteira francesa tiveram pela primeira vez medo. Não tinham passaportes em ordem, uns já estavam caducados. A polícia francesa mandou sair do autocarro todos os que não tinham passaporte. À frente deles três emigrantes, muito jovens, foram falar com a polícia e voltaram satisfeitos para o autocarro. Do grupo, avançou um primeiro elemento para a entrevista com a polícia francesa. Este volta pouco depois, branco como a cal, ao autocarro e diz que «nada feito, a polícia não os deixa passar». Assustados, vão ter com os jovens emigrantes e perguntam-lhes como fizeram para passar, o que teriam dito aos polícias franceses. Os jovens emigrantes, que visivelmente já teriam feito outras viagens, aconselharam-nos a dizer pouco, fingir que não falavam francês e balbuciar, meio francês meio castelhano, a palavra «trabalhar, trabajar, travailler», apresentando um endereço como local de destino em França. Assim o fizeram e conseguiram passar sem problemas. A França abria a porta à mão-de-obra barata, mas não dava guarida a desertores da guerra colonial.
Chegados a Paris deambularam, entre amizades e conhecimentos solidários, duas semanas pelas ruas da cidade. Dormiram aqui e ali – Paris estava cheia de exilados portugueses, que se encontravam nas esplanadas do Quartier Latin. Duas semanas sem saber o que fazer, até que encontraram um camarada, exilado na Suécia, de férias em Paris, que lhes falou da hipótese de irem para a Suécia, onde entre emigrantes e desertores, já se encontravam, sobretudo no Sul, algumas centenas.
Na chegada à Suécia são recebidos calorosamente. O jornal Upsala Nya Tidning faz toda a capa da chegada dos desertores: «Seis oficiais portugueses pedem asilo político em Uppsala.» O regime dá-lhes asilo político, casa, algum dinheiro e depois oferece a todos uma bolsa de estudo para aprenderem sueco. No primeiro ano não se organizam politicamente, mas mais tarde, já em 1971, Fernando Cardeira entrará para a secção na Suécia da OCMLP – uma organização de inspiração maoísta; os outros também se organizarão politicamente em diferentes partidos. Logo pouco meses depois de chegarem à Suécia encontraram-se com Palma Inácio, que lá se deslocou de propósito para os convidar a juntarem-se à LUAR e irem para Portugal fazer a revolução. Recusaram porque, como diz Fernando Cardeira, «não éramos iluminados politicamente, mas não queríamos voltar para Portugal para participar num ‘projecto’ revolucionário que não apresentava qualquer consistência (…). A viagem de 1968 tinha-nos aberto outros horizontes, tínhamos visto os filmes que não podíamos ver em Portugal, ler os livros que não se podiam ler, coisas tão corriqueiras como ver a montra de uma sex shop».
«Só há duas posições correctas: sabotar ou desertar»
Ainda antes de chegaram à Suécia dedicaram-se a fazer da sua deserção um acto político contra a guerra. De Paris mandaram centenas de postais – plano que já tinham preparado em Portugal – para os seus ex-instruendos do Exército, ex-colegas da Universidade e da Academia Militar, amigos e familiares, contra a guerra e a denunciar o colonialismo. Em Estocolmo, logo a 17 de Setembro, fizeram uma conferência de imprensa com ampla repercussão nos media suecos. Logo em 1970, Fernando Cardeira lembra-se de ter ido a Estocolmo participar em manifestações contra a guerra do Vietname onde conheceu desertores dessa guerra. A notícia da sua deserção chegou também a jornais franceses, alemães, italianos, noruegueses e dinamarqueses. Uma entrevista foi difundida pela emissão portuguesa da BBC.
Não havia telemóveis, mas havia o sistema de transmissões da tropa e a notícia voou por todo o Portugal e colónias. O PAIGC Actualités, de Setembro de 1970, publica na capa a foto dos seis com o título «6 tenentes portugueses, 4 destinados ao nosso país, recusaram a guerra colonial». Junto à fotografia, a declaração dos tenentes: «Nós apoiamos sinceramente os homens que, de armas na mão, lutam contra o exército colonial português em África.»
Em Setembro de 1970 cada elemento do grupo grava, em Uppsala, uma mensagem pessoal, transmitida posteriormente por diferentes rádios que apoiavam os movimentos de libertação nas colónias portuguesas. Na Rádio Conakry, por exemplo: «Daqui fala o tenente miliciano Cardeira (…). Dirijo-me principalmente aos que melhor me conhecem, aos oficiais que foram meus alunos em Mafra no 3.º Turno do COM de 1969, aos furriéis milicianos que encontrei no 1.º e 2.º turnos de CSM de 1970 das Caldas da Rainha, aos soldados que me conheceram em Leiria e Évora. Falo-vos para vos dizer, mais uma vez, que é criminosa a guerra em que participam. É uma guerra contra um povo que luta pela sua independência e liberdade. É uma guerra que vai empobrecendo o nosso Portugal e que lhe sacrifica os filhos em proveito dos grandes senhores do capitalismo internacional. No Exército português só há duas posições correctas: ou sabotar ou desertar. Todos sabemos que é impossível sabotar a guerra colonial quando se está no meio do mato. Aí há que lutar pela sobrevivência (…). É com isso que contam os que vos mandam para a frente (…). Eles sabem que vocês não vão de vontade, mas têm que se defender e, portanto, defender os interesses deles. Portanto, quando sabotar não é possível, só nos resta a deserção. E que ela não vos assuste! Nós viemos sete de uma vez e fomos bem recebidos em todo o lado. E posso garantir-vos que podem desertar porque também aí serão bem recebidos pelo PAIGC que vos enviará para o país que escolherem.»
No dia 31 de Dezembro de 1970, o ministro da Defesa Nacional e do Exército, Sá Viana Rebelo, faz um ataque cerrado aos desertores, considerados traidores à pátria. Nas suas declarações, publicadas no Diário de Notícias desse dia, o ministro procura esconder que estes homens tinham servido no Exército e realça o perigo que representa a politização das universidades: «Os comandos responsáveis têm manifestado ultimamente as suas apreensões pelo estado em que chegam aos cursos de oficiais e sargentos milicianos muitos dos seus instruendos, oriundos das universidades, de liceus e de escolas técnicas (…). Em vários destes estabelecimentos não se consegue ensinar capazmente. São hoje verdadeiros centros de subversão (…). Tão nefasta é esta acção que ainda há alguns meses desertaram para a Suécia seis tenentes milicianos, antigos alunos de Engenharia da Academia Militar, que, nos termos da legislação até há pouco vigente, tiveram de frequentar os três últimos anos numa escola de engenharia civil de Lisboa e que neste estabelecimento receberam a inspiração suficiente para trair a pátria e fazer no estrangeiro uma torpe campanha contra o seu país e contra os seus camaradas do Exército, onde efectivamente nunca serviram».
Nesse ano de 1970 começa a «caça» aos desertores. O seu processo na PIDE aumenta, com cartas que incluem vasculhar toda a vida privada. Conceição, mulher de Fernando Cardeira, descobre, quando vem a Portugal em 1971, que lhe está interdita a saída do país, pela Ordem de Serviço n.º 60 de 1 de Março de 1971, emitida pela DGS. Quando chega à fronteira de Marvão é impedida de sair, humilhada em frente de outros passageiros com o acto de apreensão do seu passaporte. Obrigada a passar a noite na Guarda Fiscal, perde o bilhete de comboio para Madrid e o de avião para a Suécia, e é recambiada para Lisboa. Durante um mês, caminha quase diariamente para a Rua António Maria Cardoso para tentar saber na PIDE por que não pode sair de Portugal. Não obtendo nunca qualquer resposta, decide fugir pela fronteira de Elvas e, via Madrid, consegue regressar à Suécia.
O grupo continuou na Suécia até ao 25 de Abril de 1974. Dois deles, António Baltazar e José M. Silva, ficaram lá a viver até hoje e são cidadãos suecos. Os outros regressaram e fixaram-se em Portugal.
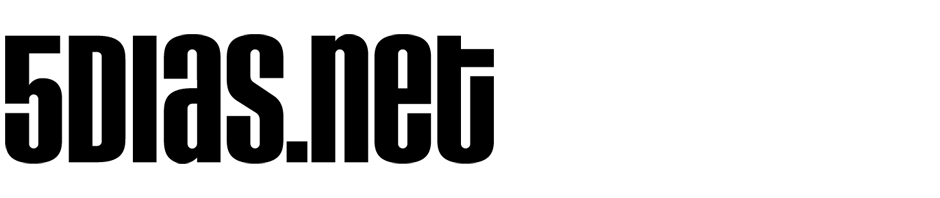


Heróicos contributos para o cartel da droga colombiano e seus associados africanos, justamente recompensados com mordomias suecas!
Não tem fim a falta de vergonha!
Você é um fascista a sério, sem exageros polémicos!
Fascista era a sua tia e você só lhe acrescentou o vermelho!
És um filho da pura.
JgMenos
Queria dizer Filho da Put@
És bem a besta que dizes ser!
Todo o cobarde se armou em opositor ao regime e à política ultramarina.
Todo o filho da puta fez declarações a favor dos turras para mamar mordomias no destino de exílio.
Sou filho do que tu quiseres, mas não dou para um tal peditório!
JgMenos.
Sei que jamais nos poderemos entender em questões politicas, mas não será por isso que farei uso de termos injuriosos.
Para vencer a sua retorica desenxabida existe uma arma muito mais eficaz. É a verdade. Conhece?
Qual a politica ultramarina a que se refere?
Aos 98% de analfabetos da população autotene?
A essa vergonhosa segregação dos assimilados?
Á explusão desapiedade dos nativos das suas terras?
Ás chacinas de inocentes?
Ao trabalho escravo sem direitos?
Ao imposto de tabanca?
A não existir um unico negro com o posto superior a major?
Um unico professor catedrático negro?
Numa população negra global de mais de 20 milhões de cidadãos existirem pouco mais de 100 (repito cem) individuos com o curso de medicina, a maioria formados às expensas das missões religiosas?
Chora por perda das colonias. E quantas lagrimas já verteu por a perda de Olivença?
O chôro em que se afoga não é por o interesse do seu país, é por aquilo que lá perdeu ou a classe a que pertence.
Porque se tivesse um minimo de respeito por o seu semelhante, não fazia uso do termo provocatório “TURRA” . Porque turras eram aqueles que colonizaram, saquearam e vexaram papulações pacificas indefesas no seu solo patrio.
Esses que despoduramente qualifica de praticar terrorismo eram os verdadeiros heróis que defediam legitimamente as suas terras e sua cultura .
O quadro esteriotipado do ‘libertador de povos’.
Muitas verdades e muitas mentiras sem ordem temporal que valide um juízo.
O Gungunhana era um paladino do seu povo?
Bem me parecia que foste da PIDE.
E, convenientemente lavado pelo Citibank , supervisionado e acarinhado pelo poder colombiano ; o tal dos presos políticos.
Fui oficial miliciano em Angola, entre 1966 e 1968, e tive a sorte de, tendo estado em zona operacional, nunca ter entrado em combate. Mas sei o que era a guerra em Angola. E por isso compreendo que houvesse quem, por objecção de consciência, não quisesse ser colocado na posição de ter de matar para não ser morto. Tenho é alguma dúvida de que os desertores em questão fossem objectores de consciência. Até porque tinham ido, voluntariamente, para a Academia Militar, para seguirem a carreira das armas. O que implicaria, eventualmente, ter de matar em combate. Depois, os desertores desertaram sem nunca ter posto os pés em teatro de operações, pelo que não podiam saber qual a realidade da guerra de que íam fugir. Admito que tivessem uma posição anti-colonial tão forte que se recusassem a ir combater quem lutava pela independência dos seus países. Mas, se levar em conta a minha própria experiência, só se percebe o que é o colonialismo quando se está fisicamente perante ele. Até ir para lá, o Ultramar era para mim uma abstração, e eu não fazia qualquer ideia do que significava destruir a identidade de um povo. Posso estar a ser injusto, mas cheira-me que estes desertores estavam mais interessados em defender o bem próprio do que o bem dos povos colonizados. Teria algumas dúvidas em dar-lhes uma medalha pelo seu acto de deserção…
Nuno Cardoso da Silva,
Já que não entraste em combate…
Jorge Lobo Diz:
Guiné, o Ex-Vietname africano
Depois de fazer a recruta em Vila real, a especialidade de artilharia em Penafiel e o IAO no Guincho(Cascais), embarcamos a 7 de Fevereiro de 1967 para a Guiné onde desembarcamos a 11 desse mesmo mês.
Ao desembarcar em Bissau logo o pessoal da minha companhia sentiu o cheiro típico a terra queimada, aquela terra vermelha típica de terras Africanas.
Logo após o desembarque recebemos a notícia de que íamos ficar destacados em Mansoa e de seguida alguém nos confidenciou que Mansoa era nem mais nem menos que um local de extremo movimento bélico……..
Subimos para as viaturas e logo à chegada a essa vila de Mansoa, sentimos-nos tristes e desmoralizados ao ver a alegria do pessoal a quem íamos render e que era a Companhia nº 816 (Lobos do OIO). Os seus elementos encontravam -se sorridentes aos pulos em cima das suas viaturas, tirando as fotos de despedida afim de momentos depois seguirem para Bissau para embarcarem para a metrópole no próprio navio de onde tínhamos desembarcado pouco tempo antes.
Ficamos adidos ao Batalhão 1857 que actuava nas temíveis zonas de Sarauol, Locher, Changalana, Cobonje e por vezes também em Morés.
Não foi preciso muito tempo para que o meu pelotão fosse baptizado de fogo.
Uma semana após, quando fomos em viaturas buscar uma companhia que vinha da mata do Locher, fomos emboscados a cerca de 6 Kms do Jugudul na estrada esta que liga as localidades de Mansoa e Portogol.
Aqui, tivemos a oportunidade de conhecer finalmente o sabor amargo da guerra, ao ver um ferido pertencente á companhia que tínhamos ido buscar.
Ao ouvir os primeiros tiros, pensamos que ainda estávamos nos treinos do IOA no Guincho, só passados momentos verificamos que ali, as balas não eram de madeira mas sim de chumbo envolvido em latão….
Um mês passado, nova emboscada na zona do Alto Namedão, onde um elemento da nossa milícia que ia à frente da coluna, foi atingido por uma roquetada que lhe arrancou o cinto e cartucheiras indo rebentar atrás dele sem lhe causar qualquer ferimento.
Mais umas 3 semanas e eis que rebenta uma mina na segunda viatura quando íamos a caminho de Portogol. Vários feridos e um nosso furriel morto, que ia ao lado do motorista.
Um mês depois estávamos no quartel, ouvimos um grande estrondo na estrada Mansoa-Portugol. Vamos de imediato ver o que se passava e deparamos um Unimog destruído com vários pedaços de pernas espalhadas no terreno num raio de 100 metros e ainda com bota calçada. Tinha sido devido a mais uma mina anticarro que tinha rebentado numa viatura da companhia do batalhão onde estávamos agregados. Vários mortos e feridos.
Uma semana depois, um patrulhamento ao Sarauol. no lado de lá da bolanha, entre Cutiá e Sarauol, o soldado Aradas repara num fio de aço ao lado da picada, fio este que estava ligado a uma granada defensiva. (armadilhada), a qual foi desmontada pelo nosso furriel, Farromba.
Recordo que para essa operação tinha sido chamado à ultima hora um soldado que não era previsto sair nesse dia. Curiosamente, esse mesmo soldado, que tanto se lamentou por ter sido nomeado para essa operação e que, a caminho do objectivo ia a rezar de terço na mão para que nada de mau lhe acontecesse… foi esse mesmo João o único morto em combate quando a companhia se encontrava estacionada em circulo dentro da mata do Sarauol. Foi atingido por um estilhaço de morteiro 82 que passou por baixo do tronco de uma árvore caída no solo atingindo-lhe a cabeça quando este estava a meu lado deitado atrás do tronco da árvore.
15 dias depois, fomos até perto do Locher em viatura afim de trazer uma companhia que vinha de uma operação. No momento em que chegávamos ao local onde nos devíamos encontrar com eles, estava ainda essa companhia a fazer fogo sobre o acampamento IN . Minutos depois, essa companhia era emboscada já muito perto do local onde nos encontrávamos à sua espera, altura em que foram por nós ajudados já que estávamos precisamente nas costas do IN, tendo permitido a mim próprio alvejar com sucesso um militar do PAIGC que se encontrava a disparar contra a companhia que vinha do objectivo. Ele estava empoleirado no cimo de uma árvore com uma arma (costureirinha) que não chegámos a capturar porque entretanto a companhia 1686 já estava junta de nós para seguirmos na direcção de Mansoa.
Uma paragem no caminho para descansar e eis que ; o Aradas, (rambo à portuguesa), olha em frente na picada e vê um grupo IN a cerca de 200 metros saindo da estrada e infiltrando-se na mata. Todos levantamos para continuar a marcha na direcção de Mansoa.
Sozinho à frente da coluna e a cerca de uns 100 metros de distância do segundo militar da coluna, ele aproximou-se sozinho do local onde os guerrilheiros se tinham emboscado ao lado da estrada.
Dispara sobre eles provocando de imediato um arraial de fogo dos dois lados das tropas conseguindo o Aradas, minimizar os danos já que desta forma não fomos apanhados de surpresa pelo IN. Mesmo assim tivemos um morto pertencente a uma companhia do Batalhão 1912.
Após uns seis meses de comissão, calhou-me ir para o destacamento do Jugudul, o qual não possuía abrigos porque se supunha que o inimigo nunca o atacaria por ser uma ex-escola. Mais tarde depois da nossa substituição no Jugudul, este destacamento haveria de ser atacado fazendo vários feridos a quem lá estava destacado e com um morto do lado N do qual falarei mais adiante.
Do Jugudul fomos destacados para a ponte de Braia por 2 meses e daí voltamos para Mansoa para continuar a parte operacional.
Estávamos praticamente a meio da comissão.
De novo em Mansoa, quando certa madrugada o Jugudul era atacado.
Na manhã seguinte o meu pelotão foi lá fazer o reconhecimento e encontramos o municiador de metralhadora IN deitado no chão morto de costas e enrolado num pente de balas de alto calibre, atrás de um monte de baga-baga.
Pouco tempo depois, a companhia 1686 pertencente ao batalhão (1912) que entretanto tinha substituído o Batalhão 1650, fez um golpe de mão na mata de Tenha-Locher e no regresso sofreu uma forte emboscada mesmo na bolanha junto do acampamento do que resultaram vários mortos e feridos, tendo lá ficado abandonado morto um soldado milícia que era o melhor guerreiro que tinha esse batalhão.
Uma semana passada somos acordados por volta da meia noite tendo o nosso capitão dito na formatura que se seguiu, que teriamos de ir destruir por completo o acampamento turra onde uns dias antes tinha havido todos aqueles mortos e feridos, no Locher.
Foi um problema a nossa saída do quartel. Pertencia ao meu pelotão ir à frente da coluna e, o nosso alferes comandante de pelotão e mais um cabo da minha secção, entraram em pânico e isso provocou que o CMDT de companhia pedisse voluntários para ir à frente sempre que houvesse operações de assalto a casas de mato.
Acabei por me incluir nesse (voluntariado….).
Chegamos ao Locher, entramos na mata por volta das 4H30 da madrugada. Seguimos por fora da picada cortando ramos de árvore para conseguirmos passar de forma a evitarmos a sentinela IN,
Finalmente entramos no acampamento. Estava abandonado de forma que, restou-nos destruir (queimar)as casas de mato. Regressamos ao quartel sem qualquer contacto com o IN.
Uma semana depois, mais um patrulhamento na zona de Ga Fará já perto de Morés, na operação (estrela do norte). Eu ia em 2º lugar à frente da coluna juntamente com a milicia.Encontramos uma casa de mato com vários guerrilheiros a fugir, disparei atingindo um deles tendo-lhe capturado a sua arma, (Kalasnikov).
Pouco tempo depois fomos passar cerca de um mês ao Olossato, arredores de Morés.
Num patrulhamento com emboscada, ferimos um elemento IN capturando-lhe a respectiva arma, sendo esse elemento transferido para Bissau onde foi curado ao joelho ficando por lá como guia das nossas companhias de comando.
Regressados do Olassato a Mansoa, fizemos um golpe de mão perto de Uaque local onde se acoitava um grupo IN que na altura montava minas anticarro na estrada Mansoa-Bissau.
O acampamento estava desabitado, pois antes de lá chegarmos o IN já tinha de lá fugido excepto o seu enfermeiro que não tinha tido tempo de fugir com os companheiros e se encontrava a dormir tendo-lhe sido capturada por mim e um soldado milícia a arma e a bolsa de enfermagem.
mais uma ida à zona do Sará fazer uma emboscada para tentar apanhar na fuga o inimigo que tinha sido surpreendido num golpe de mão por parte da do Batalhão de Mansabá.
Finalmente o meu pelotão foi destacado para Cutia.
Numa ida em viaturas a Mansoa, fomos emboscados em Sansanto tendo o Aradas e eu, feito o reconhecimento à mata, após a emboscada. Estivemos perto de capturar um elemento IN ferido o qual só não foi capturado por minha culpa ao pedir ajuda ao Aradas para me ajudar a localiza-lo já que eu tinha ouvido os seus gemidos ali por perto. Pela vida fora, arrependi-me de ter chamado o Aradas pois penso que sozinho eu teria capturado não só o guerrilheiro mas também a sua arma.
Este, acabou por deixar de gemer e não o conseguimos encontramos encontrar no capim porque tínhamos pressa de continuar a viagem nas viaturas para ir a Mansoa.
Na semana seguinte tudo nos correu pior, pois quando íamos de novo a Mansoa abastecer, seguíamos em 2 viaturas uma delas rebocando a outra por avaria.
Íamos a cerca de 20 Km/hora e éramos alvos fáceis.
No preciso local de uma semana antes, fomos de novo emboscados e na viatura onde eu seguia, houve vários feridos e um morto pertencente ao plotão de morteiros que com nós se encontrava estacionado em Cutia.
Por fim, fomos passar os últimos 3 meses a Bissau de onde embarcámos finalmente para Portugal ao fim de 22 meses de Guerra acesa e encarniçada na Guiné.
Aos (heróis portugueses de hoje), àqueles militares mimados que hoje em dia vão passear para o Kosovo ou Paquistão acompanhados de jornalistas e mimados que nem bebés, ganhando chorudos ordenados, a esses nem lhes passa pela cabeça o que os seu progenitores passaram na guerra da Guiné Bissau onde a morte os espreitava em cada esquina ou atrás de cada árvore daquelas temíveis matas mesmo ali ao lado dos quartéis nacionais.
Infelizmente a história da deserção das forças armadas ainda não foi contada! Parabéns pelo
contributo.
“Até porque tinham ido, voluntariamente, para a Academia Militar, para seguirem a carreira das armas”… esta descrição é um relato romanceado para tentar tramar o PCP. Nessa época, salvo na Guiné e em duas bolsas (uma em Cabo Delgado no norte de Moçambique, outra no Leste de Angola) a guerra não existia. Contudo estavam dezenas de batalhões militares estacionados nessas zonas cuja principal tarefa eram as acções psicológicas no controlo das populações. Os comandos eram formados por militares de alta patente sempre assessorados pela PIDE e os seus métodos habituais de tortura e assassinato “para obter informações do inimigo”. Portanto, a Raquel em vez de entrevistar em exclusivo o tio dela, pode “recolher testemunhos orais” de centenas de outros milicianos que cumpriram a tropa no teatro desta “guerra”. E sim, o trabalho dos militantes politicos que integraram a tropa nessa época e que se opuseram por todos os meios à situação, foram muito importantes para tornar o poder dos militares pró fascistas do quadro permanente insustentável. Finalizando, quando diz que os militares fizeram o golpe, não generalize abusivamente – os militares não eram todos iguais e os que lutaram contra o regime não podem ser alvo de escritos da treta
” (uma em Cabo Delgado no norte de Moçambique, ”
E Tete onde fica? Lá para os lados de Marrupa talvez? Não será que fica já no centro sul de Moçambique!
Estava para a esclarecer sobre a posição do PCP em relação à deserção. Mas o Vítor Dias antecipou-se: http://otempodascerejas2.blogspot.pt/2013/05/raquel-varela-as-desercoes-e-o-pcp.html.
Antonio Vilarigues, O Vitor Dias limitou-se a transcrever o Avante, mas como já lá escrevi, a realidade no terreno nesse tempo, era bem diferente, daquilo que se tenta fazer passar como posição oficial do PCP, nesses artigos.
Há um certo pudor , ainda hoje, daqueles que combateram o colonialismo, e defenderam a deserção, como a atitude mais coerente de enfraquecimento da máquina de guerra colonial, em discutir essa matéria.
E se ler alguns dos comentários acima, percebe porquê?
Não houve na esquerda, uma posição consensual sobre a melhor forma de combater a maquina de guerra colonial, e dar uma solidariedade activa aos movimentos de Libertação.
Houve quem com palavras e com actos defendesse a deserção, houve quem defendesse que mais importante era ir para Africa fazer trabalho anti colonial, essas duas posições estiveram SEMPRE em confronto durante todo o periodo da guerra colonial, qual dessas duas tacticas, se revelou a mais acertada ……
.
Confronto dialéctico. Confronto dialéctico.
Cada caso era um caso concreto e como tal tratado pelo PCP.
No meu caso pessoal tive de passar à clandestinidade para não ser preso. A questão nem sequer se colocava. A opção estava tomada per si. E como eu, muitos outros.
Um dos 1ºs oficiais a desertar do exército colonial – Mário Martinho de Pádua – era comunista e não foi expulso do PC, nem marginalizado.
Outros não desertaram e permaneceram nas fileiras, desenvolvendo trabalho político até ao 25 de Abril. Alguns conhecidos – leia o livro de Dinis de Almeida que aborda a preparação do 25 de Abril de 1974 – e com papel de destaque.
Não é por acaso que os presos políticos, em regra, não cumpriam o SMO. O regime e a PIDE sabiam as consequências.
Aliás as FF.AA portuguesas durante a guerra colonial tiveram uma taxa de desertores e refratários muito superior, em proporção, aos americanos na guerra do Vietnam. Anos houve em que andou perto dos 50%.
Como é óbvio na esquerda houve duas posições:
Uns defendiam a deserção como «a atitude mais coerente de enfraquecimento da máquina de guerra colonial», tal como escreve.
O PCP defendia que a atitude mais coerente dos seus militantes era prosseguir o trabalho político no interior das FF. AA.. Só desertar em último caso, ou quando tivessem de acompanhar deserções colectivas.
Já agora. O Vítor Dias não se limita a transcrever o «Avante!». Quanto mais não seja porque a parte «reservada» da resolução do CC do PCP de 1967 sobre o assunto só foi publicada depois do 25 de Abril…
Anos houve em que andou perto dos 50%.
Só pode o 0 estar do lado errado do 5 e falta uma vírgula….
Na minha modesta opinião, ambas as posições (defender a deserção, desertar ou manter-se nas forças armadas para fazer trabalho político contra a guerra e pelas independências africanas) contribuíram para a derrota do regime salazarista e da guerra colonial. Aliás, a Zita Seabra, no livro já citado, refere um problema real com que o PCP se confrontou: é que os que optavam por ir à guerra «seguindo a linha do partido» não eram normalmente os mais firmes e combativos, mas aqueles que não queriam «estragar a vida» desertando. Por isso, era duvidoso também que, nas fileiras e em África, fossem os melhores militantes anticolonialistas.
O sectarismo, a «necessidade» da demarcação política para «denunciar» os rivais no campo da esquerda é que levou a transformar esta questão (deserção versus militância nas fileiras) numa oposição irreconciliável, com acusações de oportunismo ou aventureirismo de parte a parte entre PCP e m-ls.
É bom não esquecer que uma coisa era recusar ir combater os movimentos independentistas, outra era ajudar activamente esses mesmos movimentos. Havia – felizmente – muito boa gente que era contra a guerra mas não queria ser cúmplice da morte de compatriotas nossos que estivessem integrados nas forças armadas portuguesas. Nenhum ideal justifica que se seja cúmplice na morte de outros portugueses.
«Agir prontamente e com a maior severidade contra a tentativa de deserção e contra os desertores,,, A partir de agora, o desertor individual ou o responsável ou responsáveis de uma deserção colectiva devem ser presos e condenados à morte.Se conseguirem fugir devem ser liquidados lá onde se encontrem» AMÍLCAR CABRAL
E quem eram esses desertores?
Não consegue comprender as causas de um e de outro lado?
Consigo compreender que quem quer o poder e não reconhece limites morais e humanitários tem vantagem!
Movimentos de libertação começam por capturar populações e pô-las ao seu serviço e debaixo de ditadura. Libertado o país, os chefes enchem a bolsa e vendem-se a quem der mais. Se for preciso fazem umas eleições para parolo ver.
Onde está a novidade? Lá como cá e em todo o lado, o poder é o objectivo.
Para o povo guinéu a luta agora é libertarem-se dos libertadores.
Humanitário e libertador era Salazar!
Pidjiguiti foi um ato de bondade desse “senhor” ?
A situação na Guiné é consequência da “valiosa” herança do colonialismo.
Se acha que lá enganam as pessoas. E cá como é?
Falam verdade e cumprem com o que prometem!
A pesada herança serve em todo o lado para irresponsabilizar ideologias fracassadas e líderes corruptos!
Humanitários e libertadores não eram com certeza os tiranos africanos que sucederam aos colonialistas!
E só quem quer justificar um passado de fanatismo ideológico e deserção inventa a ‘bondade’ desses libertadores.
Queres que um fascista fale verdade ou pelo menos respeite a verdade?
Admiro a tua paciência!
Será sempre muito difícil discutir esta questão. Até porque se fica por vezes com a desconfiança de que alguns “anti-colonialistas” só o eran porque não gostavam do regime que praticava esse colonialismo. Fosse outro o regime e já o colonialismo apareceria como uma oportunidade de libertar os povos e as classes dominadas… Não sei porquê, vêm-me à mente nomes como Azerbaijão, Geórgia, Arménia, Estónia, Letónia e Lituânia…
Há uma verdade incontroversa: o colonialismo é, SEMPRE, uma agressão inqualificável contra a identidade de um povo. É a destruição deliberada de todo o património cultural de um povo, as suas tradições, a sua língua, as suas instituições, a sua identidade, e a sua substituição pela língua, instituições, identidade dos colonizadores. É uma agressão que deixa marcas durante gerações, e impede o normal desenvolvimento do povo colonizado, condenado a uma dependência abjecta quer política e económica, quer cultural. Não há a menor desculpa possível para a colonização.
Mas uma vez cometido esse acto de agressão, não há regresso possível à situação anterior. O povo aculturado, para sobreviver tem de construir uma nova identidade com inclusão dos elementos estranhos que lhe foram impostos. Tal como os povos da faixa ocidental da Península Ibérica construiram a sua identidade nova à volta do latim, do direito romano e da prática administrativa romana, gerando o que é hoje Portugal e os portugueses, também os povos colonizados por nós não têm alternativa que não seja usar a língua portuguesa e as práticas administrativas portuguesas para voltarem a ser livres e capazes de funcionar como entidades soberanas. Não sendo nem portugueses nem clones portugueses, estarão definitivamente ligados aos que em tempos os oprimiram e a todos os que sofreram a mesma opressão. E oxalá consigam descobrir nessa afinidade indesejada mas real uma motivação para colaborar, como iguais, na construção de um espaço civilizacional novo que os defenda e lhes permita actuar em liberdade num mundo de diversidade. O passado foi tenebroso, mas o futuro pode ser uma oportunidade que não teria ocorrido sem a colonização. Por muito perverso que isto seja, é dificil negar essa realidade.
De lamentar que a “deserção” não tenha sido geral – evitava-se mais um capítulo vergonhoso e hediondo na História. Vejo toda a colonização como uma violação. Portanto, todos que abdiquem da violação são? Desertores? Não, nada disso: não são violadores – apenas e só.
Portanto: um não-violador, nunca será um desertor. Posso entender como desertor um indivíduo que vendo a sua nação a saque (a ser invadida/violada), se esconda ou fuja. Nunca um indivíduo esquivar-se (seja por que motivo for) de alinhar numa invasão ilegal (numa violação).
Eu que participei na guerra colonial em Angola 1971-73 só lá fui parar porque não tinha conhecimentos nem apoios para fugir, à parte alguns projectos fantasiosos que felismente não levei para a frente porque só serviriam para me meter na cadeia e acabar por ir na mesma para os piores locais da guerra.
Tirando uma ínfima minoria de militantes comunistas, duvido que alguém tenha escapado à guerra sem ter sido para salvar a vida, antes de tudo.
Quanto aos que vinham de lá a gabar-se dos crimes que terão cometido, isso é o reflexo do caracter de muitos indivíduos. Conheço alguns desses que ocupam hoje lugares “respeitáveis” na sociedade, como há o contrário: é a besta humana de que falava Zola.