Alguns historiadores, e certamente a maioria da população, consideram que o regime democrático-representativo tem origem na revolução portuguesa de 1974-1975. Esta visão confunde, cremos, aquilo que é a revolução com a contra-revolução, dois momentos distintos de um mesmo processo histórico. Esta visão omite que existe um período de regime distinto entre o fim da ditadura – a 25 de Abril de 1974 – e o início do regime democrático, cuja construção se inicia a 25 de Novembro de 1975. Trata-se de um período marcado por aquilo que se designa historicamente como formas de democracia directa ou como a existência de um duplo poder, um poder paralelo ao Estado assinalado pelo protagonismo dos trabalhadores, diversos sectores/fracções desta classe social. Confesso que acho o equívoco, não para o senso comum, mas entre historiadores, pesado. Porque ele confunde formas de Estado, Regime e Governo.
Houve vários Governos em Portugal desde sempre. O Estado foi sempre, mesmo em crise, um Estado capitalista (nunca houve um Estado Socialista em Portugal mas um Estado em crise marcado pela existência de poderes paralelos, em 1974-1975). Mas houve vários regimes dentro do Estado: ditadura, os regimes que perduraram durante a revolução, o regime democrático-representativo.
Está por discutir, e não o fazemos aqui, qual a natureza dos regimes, se é que houve mais do que um, durante o biénio 1974-1975. Teria sido dominante um regime kerenskista durante este biénio, por alusão ao regime de Kerensky depois de Fevereiro de 1917 na Rússia? Há um regime semi bonapartista depois de 11 de Março de 1975, primeiro pressionado pelo PCP (Documento Guia Povo-MFA) e depois pelo PS e a direita (IV Governo)?
Independentemente dos regimes que vigoraram no biénio 1974-1975, a revolução tinha um curso, passo a tautologia, influenciado e influenciante dos regimes. Mas ainda assim um curso independente marcado pelos organismos de duplo poder. Neste sentido, compreende-se que é reducionista considerar que a democracia é filha da revolução. A democracia-directa é filha da revolução, a democracia representativa é filha da contra revolução.
Muitas vezes esta expressão é de imediato alvo de críticas que consideram que ela acarreta mais uma visão ideológica do que histórica. É uma pressão injusta porque a outra visão, que omite ou desvaloriza a existência de uma situação de duplo poder, é muito mais alvo da pressão ideológica de um país que não ainda fez contas – e por isso tem mais dificuldades em fazer história – com um estranho passado:
1) Um passado em que os mesmos militares que fizeram uma guerra terrível contra povos indefesos em África, alguns deles, corajosamente, derrubaram a ditadura a 25 de Abril de 1975.
2) Um país onde muitos destes militares (Grupo dos 9) que derrubaram a ditadura se juntaram numa ampla frente para pôr fim ao duplo poder, à revolução, num golpe de Estado a 25 Novembro de 1975, que termina com a prisão em massa dos militares afectos às perspectivas revolucionárias que pugnavam por um deslocamento do Estado e não só do regime (a maioria naquilo que se chamou então teorias «terceiro-mundistas»).
3) Um país onde a democracia liberal encaixou os Partidos que são a constituinte do regime desde então, num amplo pacto social, que implicou desmantelar a origem da pressão para o deslocamento do Estado, isto é, a dualidade de poderes nos lugares de trabalho (comissões de trabalhadores), no espaço de moradia, na administração local e reprodução da força de trabalho (comissões de moradores) e finalmente, a partir de 1975, aquilo que Mário Soares designou como a «sovietização do regime», isto é, a dualidade de poderes emergente nas Forças Armadas.
4) É ainda uma memória que pesa porque o Partido que teve um papel heróico contra a ditadura – o PCP – aceitou não resistir ao 25 de Novembro assumindo publicamente, pela mão do seu líder de então, Álvaro Cunhal, que a esquerda militar se tinha tornado um fardo para o PCP porque a sua actuação punha em causa o equilíbrio de forças com os 9 e os acordos de coexistência pacífica entre os EUA e a URSS.
Foi a partir de 25 de Novembro de 1975 que se inicia um novo regime – paulatinamente é verdade, uma vez que a revolução leva mais de 10 anos a ser derrotada e a força de trabalho flexibilizada (a partir de 1986-89), a contra-reforma agrária a ser feita bem como a progressiva erosão do Estado Social com as privatizações. Mas foi nesta data que se dá o retorno à disciplinarização da produção para a acumulação de capital, aliás reconhecida publicamente no discurso do chefe militar do golpe, Ramalho Eanes, nas celebrações do segundo aniversário do 25 de Novembro de 1975.
Mas o papel dos historiadores não é fazer a história da memória nem arrumar a escrita da história na gestão das relações de forças sociais do momento.
Existe ainda hoje uma intensa polémica à volta do que foi o 25 de Novembro – e há dados que ainda não estão totalmente esclarecidos – porém é indiscutível que esta data marca o início do fim da revolução e a consolidação daquilo que António de Sousa Franco, insuspeito apoiante do PSD, economista e cientista social, chamou a «contra revolução democrática» e que, fruto da força ideológica dos vencedores é hoje apelidado de «normalização democrática».
Há porém algo que ninguém pode questionar. Independentemente das tendências bonapartistas levadas a cabo pelo PCP no IV Governo e exactamente nas mesmas tendências dominantes no VI Governo, liderado pelo PS (o V Governo a contrario do veiculado é dos mais moderados nas medidas, e instáveis), ambos reflectindo uma acirrada disputa pelo Estado, estava em curso um processo revolucionário. Estava em curso a maior revolução da história da Europa do pós guerra e uma das mais belas do século XX, belas é mesmo o termo, em que o Estado tinha que negociar sistematicamente com organismos de duplo poder (organizados de facto ou não, até maio de 1975, e a partir daí coordenados regional ou sectorialmente).
Historicamente existem várias formas de revoluções e várias de contra-revolução. Da mesma forma que uma revolução é um processo histórico que não se resume a um golpe militar, uma quartelada, a contra-revolução não é um processo histórico que possa ser resumido a um golpe violento que instaura uma ditadura. Na verdade nasce a contrario do exemplo português, e seguindo o sucesso de Espanha desse ponto de vista, um laboratório de processos contra-revolucionários que nada têm a ver com o modelo Chileno (um golpe contra revolucionário feito sob as botas de uma ditadura militar). Este modelo «pacífico» de contra-revolução (hoje enquadrado pelo conceito teleológico de «transições para a democracia») será adoptado pelos EUA para sua política externa, a célebre teoria Carter – e aplicado depois nas ditaduras latino-americanas. Um modelo que se centra na ideia de pôr fim às revoluções ou evitá-las criando uma base social eleitoral, no quadro do regime democrático-representativo, isto é, uma transição para uma democracia liberal, que evite a ruptura revolucionária.
Em 25 de Novembro de 1975 não começou um país mítico de sonho, de igualdade e justiça, alicerçado num Pacto Social duradouro. Começou o fim de um sonho, de gentes pobres, quantas analfabetas, estudantes, intelectuais, trabalhadores de diversos sectores que não acreditavam só utopicamente numa sociedade mais igual, acreditavam, e essa é a história da Revolução de Abril, que podiam ser eles a fazê-la, a construi-la, em vez de delegar nos outros esse poder.
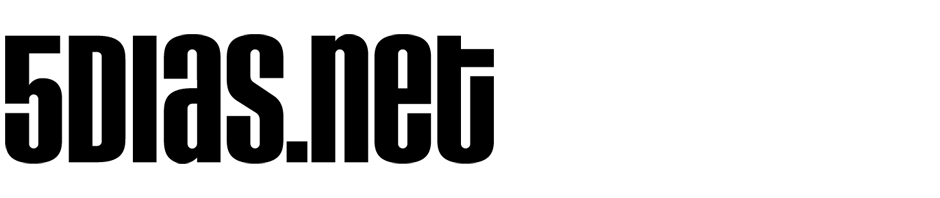


Caramba, nem uma palavra sobre Otelo e a sua postura naquela data, aliás precedida de fuga semelhante a 11 de Março. Nem uma palavra sobre a forma como o Copcon e o PRP conspiraram contra os governos de Vasco Gonçalves, em particular contra o V. Nem uma palavra sobre o posicionamento do PRP – que sem influência real na sociedade portuguesa conseguiu influência efectiva no forte do Alto do Duque – e a forma como esteve sempre de mão efectivamente dada com o PS (a próprio Isabel do Carmo reconheceria anos mais tarde a grande proximidade do PRP ao PS, durante o PREC), fazendo um jogo duplo que beneficiou absolutamente a contra-revolução. Nem uma palavra sobre a divisão na tal “esquerda militar” que não era nem uma nem una. Nem uma palavra sobre a forma como Otelo beneficiou o 25/11 através do apoio a Jaime Neves no momento em que os comandos o sanearam…
Quem tentou sanear o Jaime Neves foi um pequeno grupo de militares comandos, ligados ao PCP, talvez o António Vilarigues ainda hoje militante do PCP, possa escrever algo sobre isso.
O Copcon nunca conspirou contra os governos de Vasco Gonçalves, as atitudes deste é que o foram isolando, ao ponto de até o PCP o deixar cair.
Vou-lhe dizer uma coisa: ou o senhor “grevista” é um mentiroso ou simplesmente um provocador. Tanta ignorância e mentira nesse seu comentário.
Havia uma terceira via , o chamado documento do COPCON.
E chegou a haver a possibilidade de um consenso, que teria como primeiro Ministro Carlos Fabião, mas falhou.
A tentativa de reduzir a a luta a uma disputa entre o PCP e o PS aliado á direita, é um erro, que talvez convenha a muita gente continuar a defender, mas que em nada corresponde á verdade e ás força que disputavam o poder á época.
Raquel Varela.
Nos seus diversos escritos sobre o pós 25 de Abril, incluindo no seu livro sobre o PCP nesse período, e não especificamente neste texto, parece-me laborar em diversos equívocos.
Penso que força um pouco a nota quando considera o golpe de Estado militar uma revolução política, mas este talvez seja o equívoco menor. As classes dirigentes quando mudam de pessoal político de forma radical costumam designar o facto por revolução. Concedamos, então, que o golpe de Estado foi uma “revolução política”, tanto mais que mudou o regime político de ditadura para democracia representativa, com eleições e tudo o mais. Mas considerar a situação política entre o 25 de Abril de 74 e o 25 de Novembro de 75 como configurando uma “revolução social” parece-me um pouco abusivo. Julgo que confunde a maior participação popular nos acontecimentos, que quanto muito poderia levar a considerar tratar-se de uma “revolução política popular” ou apenas de uma “revolução popular”, com o conceito de “revolução social”. Enquanto numa “revolução política” a classe social dominante, só ou em aliança com outras classes ou suas fracções, muda o seu pessoal político, algumas instituições e, eventualmente, o regime político, numa “revolução social”, porque consequência duma mais lenta revolução económica, é uma classe social até então dominada que conquista o poder, para assim, adequando o poder político às necessidades de desenvolvimento do seu poder económico, se transformar em classe dominante.
Não me parece que o golpe de Estado militar de 25 de Abril e a grave crise política que lhe seguiu tenham retirado do poder a burguesia capitalista, colocando no seu lugar uma outra classe social, assim como não me parece que aquela crise política, grave e demorada, tenha constituído uma “crise revolucionária”, durante a qual os trabalhadores assalariados, directamente e através de representantes políticos seus, tenham disputado o poder à burguesia capitalista. Em meu entender, não chegou a haver uma crise revolucionária (apesar das condições objectivas para que tal viesse a acontecer, pelo cagaço que a burguesia apanhou), e a disputa do poder político nunca esteve na ordem do dia. A maior fatia do poder que os trabalhadores conquistaram foi ao nível mais baixo do poder local, onde constituíram órgãos alternativos aos do Estado burguês, as Comissões de Moradores, que ultrapassaram as Juntas de Freguesia e impuseram muitas situações de facto às Câmaras Municipais, que tiveram de aceitá-las (com maior ou menor simpatia ou concordância, não é relevante).
Ao nível da produção, das empresas, fora os casos de autogestão para assegurarem os postos de trabalho, nas pequenas empresas industriais abandonadas pelos patrões ou de onde os expulsaram pelos mais variados motivos, ou para conquistá-los, nas herdades abandonadas, o mais que os trabalhadores conseguiram foi transformar as Comissões de Trabalhadores em órgãos de audição obrigatória da gestão, situação que na generalidade dos casos nem chegou a atingir os poderes que órgãos similares dispunham na cogestão social-democrata e que o PCP empolou como se fosse “controlo operário”. E do papel contra-revolucionário do PCP, contra as iniciativas mais audaciosas dos trabalhadores, da “batalha da produção”, de “um dia de trabalho para a nação”, contra as greves e muitas ocupações, tudo em defesa da “economia nacional”, atrelando o movimento operário e popular ao MFA, que assim foi transformado de dirigente do golpe de Estado em dirigente da grave crise política que espoletou, ou do “processo revolucionário em curso”, como o PCP designou a situação, fazendo crer que se vivia uma revolução, nem é bom falar (até porque você já disse umas coisas). Outro galo poderia ter cantado se… por exemplo, tivesse existido um verdadeiro partido comunista revolucionário, que orientasse o movimento operário e popular na direcção audaciosa da conquista do poder político. A vida, porém, não se fez, nem faz nem fará de ses, e hoje, que se sabe o que foi o comunismo, pode dizer-se: para melhor antes assim.
O golpe de Estado militar de 25 de Novembro pôs fim às ilusões pequeno-burguesas de uma facção do MFA, a chamada “Esquerda Militar”, que sempre se mostrou mais audaciosa do que o pequeno-burguês PCP (apesar de constituída maioritariamente por militantes e simpatizantes deste partido), após as derrotas que tinha sofrido em diversas assembleias do MFA (e também por meios golpistas). O isco foram os coitados dos pára-quedistas, que mais uma vez caíram esparramados numa das muitas armadilhas de que foram vítimas. Relegando a condução da crise política para o seio da tropa, em vez de a trazer para o seio do movimento operário, a resolução da crise resumiu-se à contagem de espingardas e a um ou outro pequeno recontro militar. E até quanto ao desfecho da crise as posições do PCP foram pouco mais do que caricatas, confinando os seus militantes, e esperando armá-los, como reserva dos militares, à espera de um golpe militar que nunca chegou a acontecer, porque os comandos que influenciava de parte da tropa se mostraram sensatos. A contra-revolução acabou por ser mais audaciosa, temerária e eficaz, quer ao nível da tropa, quer ao nível civil, e actuante (incluindo por actos terroristas), e o desfecho da grave crise política foi o que se sabe.
Isso não impediu o PCP, depois do 25 de Novembro, de continuar a apregoar, despudoradamente, que o país tomara o “rumo do socialismo”. Do socialismo que o PCP sempre defendeu, o do “nacionalizado, nosso”. Foi um papel contra-revolucionário e peras, o do PCP. E por isso é confrangedor ver esta rapaziada nova que escreve neste blog, que não viveu aqueles tempos conturbados, apelidar o seu partido de revolucionário. Enfim, é o que temos.
Agradeço encarecidamente a lucidez deste artigo, onde o objectivo principal me parece ser a reposição da verdade histórica e não a construção de uma realidade orwellianamente mitificada e reescrita, facciosa e alienante. Para quem, como eu, esteve envolvido no movimento social em 1974-1975, procurando (necessariamente por tentativa e erro, e sem nenhumas certezas) construir novas formas de democracia directa e poder popular, este artigo, além de oferecer algumas verdades históricas, é profundamente tocante – a felicidade que foi para mim (e para outros camaradas meus) participar nesse processo único, a aflição tremenda que foi passarmos por um golpe militar em que o nosso lado da barreira estava claramente na mira das espingardas, são adivinhados com enorme lucidez pela Raquel. É muito raro isto acontecer, 38 anos passados. Não encontro as palavras adequadas para descrever a minha gratidão pela homenagem aqui prestada às populações e aos militantes que lutaram durante o PREC pela construção de um mundo novo e melhor. É toda uma história que, como afirmo em «Os Pauliteiros e o Beco» (http://bilioso.blogspot.pt/2013/11/os-pauliteiros-e-o-beco.html), ainda está por fazer.
Gostaria de perguntar quais as possibilidades reais para um qualquer partido ou movimento no período pós 25 de Abril, depois de 40 anos de ditadura, inviabilizar a realização de eleições? Partindo desta ideia, necessariamente subjectiva, realizadas as eleições, a maioria do povo português escolheu (infelizmente) o PS, e foi a tomada do poder político desta força política aliada ao grande capital, que sucessivamente esvaziou o que a Raquel Varela considera como duplo poder, que nunca existiu realmente em Portugal.
A existência de um duplo poder de controlo operário nas empresas exige a efectivação de direitos fora do quadro legal estatal, ou por outras palavras, da sua imposição como lei do Estado.
Só é possível ao controlo operário implementar o seu domínio, sem o controlo político do Estado, se tiver condições para impor a sua força à repressão do capital, nomeadamente através da luta armada, algo que em nenhuma empresa deste país, foi possível de alcançar. Logo, as conquistas deste suposto duplo poder, seriam (como foram) roubadas novamente, a partir do momento que a acção legislativa se impunha contra a acção dos trabalhadores. Aliás como acontece ainda hoje, precisamente por estas razões, ausência de capacidade dos trabalhadores de reprimirem a repressão do capital com a ausência do controlo político do estado.
Enquanto não existiu um governo “legitimado” pelo “povo”, os organismos representativos dos trabalhadores ou acções de massas pressionaram os governos provisórios a estabelecer como lei, coisas que já se viviam na realidade. Permitiu ao PS, PSD, CDS-PP engolirem o sapo porque não tinham alternativa, ao não terem o controlo político sob as forças de regressão.
As grandes conquistas alcançadas foram possível quando o poder político estava sob influência do PCP nos governos provisórios, que anestesiaram, na medida do possível para um país sob protectorado armado dos EUA, mas condinacionado na sua acção, a acção das forças da reacção. Não é por acaso que o PCP se confrontou com a necessidade de se afirmar contra determinadas greves, porque percebeu e bem, que a corda poderia partir-se a qualquer momento, e justificar “moralmente” uma intervenção musculada, quebrando então, a hipótese de passo a passo ir concretizando em lei o que o controlo operário impunha em locais concretos.
Transformava em lei geral, acções locais.
O golpe contra os trabalhadores (ou a chamada democracia representativa) não se dá no 25 de Novembro (com os historiadores burgueses querem fazer crer e insistem, insistem – com uma não surpresa de serem secundados pelos chamados “esquerdistas”), mas com a vitória do PS nas eleições, e consequentemente com a impossibilidade política de transformar o que o controlo operário implementava, em lei do país, logo condenado, mais tempo menos tempo, essas acções à repressão do Estado.
A história do 25 de Novembro é o clássico das tácticas do capital de inventar duas mentiras que sirvam ataques à “esquerda” e à direita para combater a luta organizada dos trabalhadores. À direita, a instauração de uma ditadura comunista, à “esquerda”, o clássico PC que nega a tomada do poder.
Quem viveu esses períodos sabe que só a hipótese de Portugal voltar a uma ditadura, com a propaganda anti-soviética de mais de 40 anos, assustava muitos dos democratas e progressistas que inclusivamente tinham actuado lado a lado com o PCP na resistência anti-fascista.
Considerar que no Portugal pós-25 de Abril com o controlo apertado da Embaixada Norte-Americana, com um vizinho espanhol sob as forças do fascismo, seria possível um golpe que inviabilizasse eleições e instaurasse uma ditadura do proletariado, é algo que eu não consigo conceber sinceramente. Portugal esteve muito mais próximo do regresso do fascismo do que uma democracia popular.
A democracia popular só seria possível num contexto histórico favorável que permitisse às forças armadas a aliança do povo armado nas fábricas, algo que não teria sido tolerado pelo capital como abundante documentação demonstra, e como o Chile provara um ano antes (facto que obviamente não deveria sair da cabeça dos dirigentes do PCP, mas que raramente é estudado na profusão de livros que vão saindo, sempre patrocinados pelas grandes multinacionais do ramo).
A opção do PCP tinha algumas hipóteses de se concretizar, mas talves incompreensivelmente, este partido teve forças para se aguentar no barco no meio de fascistas que o queriam ilegalizar, entre os fascistas que com ares de democratas impunham a ideia de que o PCP queria vender Portugal à Rússia e uma “esquerda”, que entre mil movimentos e partidos, o escolheu como alvo principal dos ataques, desde o social-imperialismo, ao Cunhal revisionista burguês.
O que falta contar da história da Revolução, e nenhum historiador ainda o fez, é como foi possível chegar a 2014, e com toda a sua história de repressão violentíssima,e com toda a manipulação ideológica anti-PCP que ainda hoje continua… se manter como o mais representativo (de longe) da classe trabalhadora.
Falta esse estudo, que teria muita curiosidade em ler.
A propósito de algumas observações aqui introduzidas por Demitos e José Fagundes, gostaria de deixar algumas considerações dispersas, a título de ilustração. Terei de fazê-lo omitindo nomes de lugares e de pessoas vivas, por não as ter consultado.
Quando Raquel Varela fala de duplo poder, creio não ser necessária uma inteligência sobre-humana para ler no texto o que o texto diz: tratou-se de um processo nascente, tenteado, limitado a bolsas locais, ainda não plenamente articuladas e consolidadas – mas ainda assim um processo objectivo, com efeitos reais. Não vejo, em lado nenhum do texto de Raquel Varela, a afirmação de que houvesse uma duplicidade de poderes plenamente desenvolvida – caso em que, inevitavelmente, o confronto teria de ocorrer de forma violenta e definitiva, concluindo sem fuga possível num esmagamento sangrento das facções favoráveis ao capital ou, inversamente, na aniquilação física das tendências revolucionárias.
Vir aqui afirmar que não existiam situações de duplo poder (e de vazio do poder dominante) que tiveram efeitos práticos muito além do âmbito do poder local ou é ignorância inocente (temos todos uma tendência natural a pensar que os meios em que nos movemos constituem uma amostra significativa do universo inteiro), ou é má-fé. Em qualquer dos casos é objectivamente uma deturpação da realidade.
Eu fiz parte de assembleias populares (cá no burgo não se chamavam sovietes) com moradores, operários, soldados, arquitectos, etc. As decisões e acções que lá tomámos ultrapassaram muito largamente o simples âmbito do poder local: estabelecemos (por um brevíssimo período) relações – pessoais, de trabalho, de propriedade e de distribuição dos meios disponíveis – que constituíam um universo radicalmente oposto ao da sociedade capitalista. Mas há atitudes mentais (ou, talvez melhor dizendo, perspectivas ideológicas) que impedem a percepção da realidade, mesmo quando ela está debaixo dos nossos olhos. Uma atitude paternalista e institucional entranhada, por exemplo, impede que se veja a realidade objectiva, quando esta não se enquadra no funcionamento das instituições do Estado burguês nem se deixa reger pela orientação dos partidos tradicionais.
Assim, quando os soldados de um quartel mandam as suas chefias ir ver se chove e se apoderam dos camiões do exército (apropriação de meios de produção) para transportar tijolos confiscados pelos operários que os fabricaram (apropriação de bens essenciais e de meios de produção), para ajudar a população de um bairro a construir, segundo os planos dessa mesma população, as casas de que ela carece (construção de uma política de habitação à revelia das autoridades, que já tinham um plano, sim, mas bem diferente deste); quando, para construir esse bairro, essa população se apodera de um terreno que era propriedade de um capitalista qualquer, sem pedir licença ao departamento de registo de propriedades e sem se preocuparem com pedir a esse departamento que mude o registo da propriedade, porque pura e simplesmente se estão marimbando para as instituições do Estado burguês (isto é, as instituições de defesa da propriedade privada dos meios de produção); e quando tudo isto é decidido democraticamente numa assembleia conjunta de moradores, operários das fábricas de materiais de construção, soldados rasos (sem chefias), electricistas, trabalhadores camarários, moradores, arquitectos, engenheiros,… sem intermediação institucional ou partidária – não estamos perante uma pequena contrariedade de poder local; estamos perante o dealbar de um novo tipo de poder: o poder popular (ou como lhe queiram chamar, que eu sei que os teóricos da ideologia são uns coca-bichinhos com estas terminologias da treta).
Quando um profissional do cinema entra no Palácio Foz dizendo que recusa submeter a exibição do seu filme às normas de classificação etária (ou seja, à comissão de censura), e perante a atitude hirta e legalista de um major sentado atrás da secretária e desesperadamente agarrado a um «dura lex, sed lex», responde: «Pegue num papel e numa caneta e escreva aí: O MFA decreta que a partir deste momento a comissão de censura e classificação de espectáculos é extinta nas suas funções e no seu estatuto, devendo os realizadores, distribuidores e exibidores de cinema usarem de bom senso na exibição dos seus filmes»; e assim se escreveu e passou a ser lei – quando isto acontece, estamos perante o quê? Um poder burguês e militar com cãibras? Ou uma deslocação do eixo do poder?
Em suma: quando se pretende falar duma realidade, convém conhecê-la. Ou, não a conhecendo, convém calar, ouvir humildemente e aprender, usufruindo assim do imenso prazer que a aprendizagem pode proporcionar.
Perdoem-me a extensão exagerada deste comentário, mas seria-me-ia difícil fazê-lo doutra forma.
Raquel, será que me poderia elucidar sobre os acontecimentos de 1 de Janeiro de 1976 em Custóias, no Porto, em que a GNR matou 3 (ou 4?) pessoas, que se manifestavam em solidariedade com os militares presos do 25 de Novembro.
Não conheço bem. Lamento.
Bilioso.
As experiências políticas que viveu, assim como muitos outros, decerto ficaram a constituir o melhor que uma vida pode esperar. Elas são exemplos da fruição da liberdade obtida, depois de tantos anos de ditadura, e da mobilização e da criatividade populares para conquistar melhores condições de vida evidenciadas nesse período de pouco mais de um ano a seguir ao golpe de Estado militar de 25 de Abril de 74. E são a melhor evidência das potencialidades que o movimento operário e popular mostrou possuir para que uma mudança de regime político fosse transformada numa verdadeira revolução.
Infelizmente, embora muitas e diversificadas, as iniciativas do movimento operário e popular não foram canalizadas para objectivos mais vastos e não ultrapassaram o âmbito de acções locais, e os órgãos populares de base (como se dizia) nunca foram incentivados a associarem-se em estruturas mais amplas, de modo a constituírem-se como verdadeiros órgãos de duplo poder. O que me diferencia da Raquel Varela é o empolamento que ela faz (que parece constituir uma sua obsessão) em relação ao poder real que aquelas organizações populares dispuseram.
Um partido, o PCP, sempre se esforçou (embora não o tenha conseguido) para colocar aquelas organizações sob a alçada do Estado burguês, quando o necessário era fortalece-las e consolidá-las fora dessa alçada, para assim reforçarem o seu poder alternativo. De início, não se opôs às Comissões de Moradores, mas não foi apologista das acções mais audaciosas, como a ocupação das casas devolutas, assim como em relação às Comissões de Trabalhadores, que relegava para plano secundário, dando primazia às Comissões Sindicais (que controlava mais facilmente), e até a ocupação de herdades e a constituição de Unidades Colectivas de Produção partiu da iniciativa popular. Até que ele próprio teve de render-se às evidências da pujança da movimentação popular.
Mas, é claro, o movimento operário e popular evidenciava grandes fragilidades, que não foram colmatadas pela orientação política de um partido revolucionário. O PCP nunca fora um partido revolucionário, e toda a sua acção estava virada para o apoio ao MFA e para a ocupação do aparelho do Estado burguês. Não poderia orientar as massas para acções autónomas que escapassem ao seu controlo ou ultrapassassem os seus objectivos. E os grupos esquerdistas, apesar de muitas iniciativas louváveis, no geral, andavam a apanhar bonés, a aprender a fazer política correndo atrás das massas e a radicalizar as suas acções, por vezes as mais descabeladas, julgando que assim as dirigiam.
Daí que o próprio movimento operário e popular se voltasse, ele próprio, para o guarda-chuva do MFA (e, na região de Lisboa, depois, para o COPCON), que chamava em seu socorro não só nas situações mais delicadas, mas também nas mais caricatas. Não admira, por exemplo, que grande parte das empresas abandonadas pelos patrões, ou de onde os trabalhadores os expulsaram, tenha sido intervencionada pelo Estado e com gestões por ele nomeadas e não tenha originado a constituição de cooperativas ou de unidades colectivas de produção, mesmo usufruindo de apoios estatais, a exemplo das herdades ocupadas.
Eu também vivi esse sonho, em muitas e variadas situações, mas não tive a capacidade de me deixar iludir. E não esqueço que os partidos e os grupos ditos de esquerda, PCP e grupos esquerdistas maoistas, nunca puseram como objectivo a conquista do poder político. Combateram as iniciativas da reacção, que derrotaram em variadíssimas ocasiões (golpe Palma Carlos, 28 de Setembro, 11 de Março), mas, paradoxalmente, não aproveitaram essas vitórias para ir mais além da manutenção do estado de coisas vigente. A subordinação ao MFA, que foi transformado no dirigente da grave crise política que se vivia, e o medo da reacção fascista eram mais fortes do que o desejo da revolução.
No rescaldo da mais grave daquelas iniciativas, o golpe spinolista de 11 de Março, o que conseguiram foi a nacionalização da Banca e dos Seguros (e através dela de centenas de empresas), quando muito pessoal exigia o julgamento severo dos conspiradores e um aprofundamento das transformações políticas. A reacção fascista, afinal, era bem frágil, porque não gozava dos propalados apoios americanos e ingleses, mas perante a tibieza dos partidos e grupos ditos progressistas e revolucionários tornou-se muito mais audaciosa e acabou por ser mais eficaz do que eles. Não isoladamente, mas em aliança com a fracção mais temerosa da pequena-burguesia. O golpe final foi a quartelada do 25 de Novembro.
Mas isto é a minha ignorância e má-fé a falar. “Em qualquer dos casos é objectivamente uma deturpação da realidade”. Porque naquele período “existiam situações de duplo poder (e de vazio do poder dominante) que tiveram efeitos práticos muito além do âmbito do poder local”. Eu é que não vi.